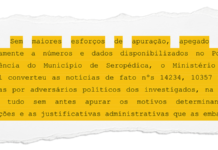Os últimos 30 mil telefones de uso público — os orelhões — já têm data para sair de cena: final de 2028. Lançados em 1972, com design da arquiteta Chu Ming Silveira, eles já foram mais de 1,5 milhão espalhados pelo país. Eram a face concreta de uma obrigação: concessionárias de telefonia fixa mantinham os terminais como contrapartida do serviço, algo que, na prática, traduzia “universalização” em metal, fio e chamada barata.
Só que a engrenagem que sustentava esse modelo ficou sem contrato: as concessões firmadas em 1998 terminaram em dezembro de 2025. A “adaptação” para autorizações de serviço (regime privado) prevê a extinção gradual dos telefones públicos dentro do plano de universalização. A Anatel diz que, com o fim dos contratos, “tornou-se oportuna uma discussão mais ampla” para estimular investimentos em redes de suporte à banda larga — frase elegante para empurrar o que era obrigação pública para a lógica do mercado, onde a conta fecha mais rápido do que o sinal chega.
No meio disso, a realidade adicionou um detalhe incômodo: a Oi, uma das maiores concessionárias, vive crise desde 2016 e tem processo de falência aberto. Resultado: o orelhão morre oficialmente por “evolução tecnológica”, mas também por esgotamento regulatório — e o país troca um serviço pensado para qualquer bolso por um ecossistema em que estar conectado depende de chip, crédito, aparelho e cobertura. Moderniza, sim; universaliza, nem sempre.